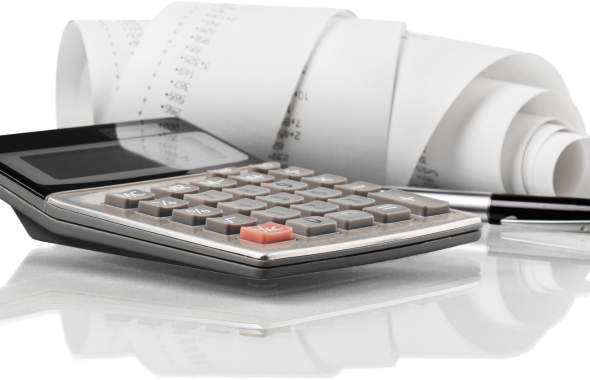- 21 de agosto de 2025
- Governo , Jurídico , Tributação
- Comentários: 0
Opinião – O que a nova reforma tributária apagou do federalismo brasileiro
Beatriz Ramalho
A Emenda Constitucional nº 132/2023 promete reescrever as regras da tributação brasileira. Seu discurso oficial gira em torno da simplificação, da justiça fiscal e da eliminação de distorções. Mas o que não está dito — ou é dito entrelinhas — é talvez o mais importante: a EC 132 representa a maior ruptura estrutural com o modelo federativo solidário previsto na Constituição de 1988 desde sua promulgação [1].
Ao alterar o critério de repartição das receitas do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), substituindo o tradicional modelo de mérito — baseado no Valor Adicionado Fiscal (VAF) — por um modelo populacional, a reforma desincentiva o esforço fiscal, desestrutura a autonomia local e dissolve a lógica de desenvolvimento regional endógeno.
A revolução do critério populacional: quando a demografia anula a economia
A nova lógica distributiva é simples em aparência e perigosa em essência. Pela EC 132, 80% da cota-parte do IBS dos municípios será distribuída conforme o número de habitantes, em substituição ao VAF, que refletia o volume de valor adicionado local à cadeia produtiva [2]. Trata-se de uma inversão dramática no conceito de justiça fiscal: deixa-se de premiar a capacidade de geração de riqueza para adotar um critério de densidade demográfica.
Em termos práticos, municípios que historicamente se especializaram, inovaram, formalizaram e arrecadaram mais — como Bento Gonçalves (RS) ou Lucas do Rio Verde (MT) — passarão a receber menos do que municípios com frágil estrutura econômica, mas população maior, mesmo que desocupada ou informal [3]. O federalismo meritocrático é assim substituído por um federalismo assistencialista, onde o critério de justiça tributária é a inércia estatística da população.
Essa mudança não apenas reduz os incentivos à formalização da economia local, como pode alimentar comportamentos estratégicos, como a resistência a políticas de incentivo tributário local que visem a atrair empresas — já que o esforço não seria revertido em maior receita própria via IBS.
Quando a igualdade desiguala: a falácia da equidade uniforme
Ao priorizar o critério populacional, a EC 132 sustenta uma falácia: a de que todos os municípios partem de patamares iguais. A Constituição de 1988, ao determinar a “redução das desigualdades regionais e sociais” (artigo 3º, III), reconheceu que há, sim, desequilíbrios estruturais entre regiões do país, e que tratar desiguais como iguais é, por definição, injusto.
A nova regra ignora essas assimetrias. Segundo projeções do BNDES [3] e simulações do Ipea, mais de 1.000 municípios terão queda superior a 30% nas suas participações relativas no novo imposto, com destaque para cidades agroindustriais do Centro-Oeste e interior nordestino, que dependem do VAF como motor de redistribuição justa.
Pior: municípios com maior capacidade organizacional e arrecadatória — que nos últimos anos estruturaram sistemas próprios de fiscalização e políticas de desenvolvimento — serão penalizados por seus próprios acertos. Já localidades com baixa institucionalidade serão “premiadas” por não ter feito o mesmo caminho. O resultado: um sistema que induz à estagnação e desencoraja o dinamismo fiscal local.
A morte lenta do federalismo de cooperação
A estrutura proposta pela reforma não apenas altera critérios distributivos, mas redefine relações institucionais entre os entes federativos. A criação de um Comitê Gestor Nacional do IBS, sem paridade política e com poderes regulatórios centralizados, marca um deslocamento da autonomia tributária municipal e estadual para uma esfera federalizada, pouco transparente e de composição incerta.
Estados e municípios tornam-se, na prática, gestores operacionais de tributos cuja arrecadação, normatização e distribuição serão decididas por um órgão tecnocrático. O princípio da subsidiariedade — basilar ao modelo federativo — é enfraquecido e substituído por uma lógica de coordenação verticalizada, incompatível com o desenho original do pacto constitucional de 1988.
O controle local da tributação é um dos pilares da autonomia política. Quando se esvazia esse poder, esvazia-se, de certo modo, a própria razão de ser do ente federativo. O que resta ao município que não define, nem arrecada, nem calcula seu imposto principal? Uma autonomia sem eficácia. Uma federação por retórica.[4]
O risco constitucional: violação ao princípio da equidade
O artigo 3º, III da Constituição impõe ao Estado o dever de “reduzir as desigualdades regionais e sociais”. A opção por critérios distributivos homogêneos, calcados na população, afronta diretamente esse comando. A crítica jurídica torna-se inevitável: a distribuição do IBS sob esse modelo viola o princípio constitucional da justiça distributiva federativa.
É hora de falar em inconstitucionalidade?
Mais que isso: é hora de falar em controle de constitucionalidade por omissão e distorção. A retirada do VAF sem compensação adequada, a não previsão de transição justa e a ausência de mecanismos de avaliação contínua — além da centralização decisória — justificam questionamentos junto ao STF, tanto por meio de ADI quanto por ações que envolvam o controle concentrado de constitucionalidade.
A possibilidade de ADIs não é apenas jurídica, mas política. Municípios historicamente prejudicados podem buscar o Supremo não apenas por perdas imediatas, mas por comprometimento de sua sustentabilidade a médio prazo.
Caminhos alternativos: o que aprender com a Alemanha e o Canadá?
A equalização fiscal alemã entre os Länder (estados) [5] é um exemplo de sistema que combina meritocracia, solidariedade e proporcionalidade. O modelo canadense, por sua vez, articula autonomia plena com fundos redistributivos que consideram variáveis como renda per capita, capacidade tributária e nível de serviço público.
No Brasil, há propostas no meio acadêmico de criação de um “índice federativo composto” que leve em conta fatores como PIB municipal, indicadores sociais, produtividade e responsabilidade fiscal. Essa alternativa impediria a criação de um “efeito de colapso institucional” em municípios que perderão sua principal receita sem chance de recomposição.
É preciso também pensar em revalorização dos Fundos de Participação (FPM e FPE), aprimorando critérios internos para reequilibrar o modelo. Em todos os casos, é essencial que a reforma leve em consideração a complexidade da federação brasileira — e não apenas planilhas de arrecadação.
Conclusão
A EC 132/2023 inaugura um novo paradigma tributário, mas o faz à custa de pilares fundamentais da Constituição. Ao abandonar o VAF e privilegiar o critério populacional, promove um retrocesso institucional e cria um ciclo de desincentivo fiscal local.
A reforma não é apenas técnica. Ela tem consequências humanas, políticas e constitucionais. Por isso, a resistência jurídica deve ser proporcional à gravidade da ruptura. O que está em jogo não é apenas a redistribuição de um imposto — é o próprio equilíbrio federativo.
A esperança é que o Brasil não silencie diante desse vazio.
[1] [1] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 3º, III e art. 60, § 4º.
[2] EC 132/2023. Diário Oficial da União, 21 de dezembro de 2023.
[3] BNDES. Estudos sobre Distribuição Federativa. Brasília, 2024.
[4] (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 1º, caput e art. 60, § 4º, I e IV).
[5] OECD. Fiscal Federalism in Germany and Canada. Paris, 2022.
Fonte: Consultor Jurídico